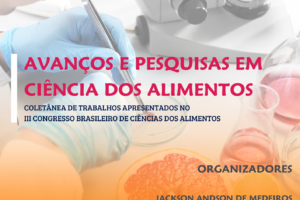PERFIL FISICO-QUÍMICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO DE POLEN APICOLA PRODUZIDO NO NORTE DO ESTADO DO PIAUÍ
Afra Maria do Carmo Bandeira do Nascimento; Mariana de Morais Sousa; Luanne Morais Vieira Galvão; Romério Alves Carvalho da Silva; Silvia Maria de Freitas; Francisco de Assis Ribeiro dos Santos; Maria do Carmo Passos Rodrigues
*Autor correspondente (Corresponding author) – Email: afra.nascimento@ifpi.edu.br
DOI: 10.53934/agronfy-2025-01-01
ISBN: 978-65-85062-21-3
Este capítulo faz parte da coletânea de trabalhos apresentados no III Congresso Brasileiro de Ciências dos Alimentos publicado no livro: Avanços e Pesquisas em Ciência dos Alimentos – Acesse ele aqui.
Vídeo de apresentação do capítulo
RESUMO
O pólen apícola é o produto da aglutinação do pólen de flores com a saliva de abelhas operárias. Sua composição varia conforme a origem botânica tanto entre regiões distintas como na mesma região. Objetivou-se estabelecer o perfil físico-químico, microbiológico e atividade antioxidante do pólen apícola produzido e comercializado na região norte do estado do Piauí. Foram analisados os parâmetros de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, pH; quantificação de fenólicos totais e atividade antioxidante pelas metodologias de DPPH e ABTS; bem como testes microbiológicos no pólen. As análises físico-químicas e microbiológicas foram satisfatórias, com resultados dentro dos limites estabelecidos, exceto para umidade, porém o valor de atividade de água foi baixo o suficiente para prevenir alterações no produto. O conteúdo de fenólicos se assemelhou aos de outras pesquisas e a atividade antioxidante foi abaixo do que a literatura comparativa. Com os resultados, percebe-se que o pólen apícola produzido e comercializado por esta unidade é de boa qualidade e apto para ser utilizado como produto alimentício ou como matéria-prima.
Palavras-chave: bioativos; controle de qualidade; produto apícola
INTRODUÇÃO
O pólen apícola é o resultado da aglutinação do pólen das flores, realizada por abelhas operárias, envolvendo néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido na entrada da colmeia (1). Vários estudos versam sobre a sua caracterização físicoquímica, porém poucas pesquisas têm sido feitas para o desenvolvimento de produtos para alimentação humana.
Vincenzi (2) elencou como benefícios conferidos pelo pólen apícola: seu efeito de estimulante biológico de diferentes funções orgânicas; ação revitalizante, estimulador de apetite e da capacidade intelectual; que favorece o aumento da taxa de hemoglobina, atuando de forma benéfica em casos de anemia, particularmente em crianças, pela presença de ferro e vitamina B6; favorece a recuperação de pessoas que passaram por algum procedimento médico, tal como cirurgia; e apresenta capacidade de retardar o envelhecimento.
Além disso, o pólen apícola apresenta composição química de 10% a 40% de proteínas, 13% a 55% de carboidratos, 1% a 13% de lipídios, 0,3% a 20% de fibra bruta e 2% a 6% de cinzas. As proteínas são de alto valor biológico, pois possuem todos os aminoácidos essenciais. Possui também diversos elementos minerais de importância, como o potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, fosforo e vitaminas como bcaroteno, vitaminas C, D, E, vitaminas do complexo B e ácido fólico (3,4,5,6,7).
Somada a essa rica composição bromatológica, o trabalho de Rocha (8) traz uma compilação dos principais compostos fenólicos presentes no pólen apícola, apontando flavonoides glicosilados e ácidos hidroxicinâmicos. LeBlanc et al. (9) identificou os seguintes compostos fenólicos no pólen apícola dos Estados Unidos: ácidos phidroxibenzóico, p-cumárico, vanílico, gálico e ferúlico.
Observa-se que a utilização do pólen apícola como ingrediente para a elaboração de produtos alimentícios representa um grande potencial industrial devido às inúmeras propriedades já notificadas em estudos: presença de compostos antioxidantes, proteínas com significativo valor biológico, aporte considerável de carboidratos, minerais, vitaminas e baixo teor lipídico, ou seja, um elemento que apresenta características aplicáveis tanto por ser fornecedor de energia como de proteínas.
Desta forma, no presente trabalho, objetivou-se estabelecer o perfil físicoquímico e microbiológico do pólen apícola produzido e comercializado pelo Assentamento Vassouras no norte do estado do Piauí.
MATERIAIS E MÉTODOS
Obtenção das matérias primas
O pólen apícola foi obtido no período de fevereiro a abril de 2014, no assentamento Vassouras, zona rural da cidade de Esperantina, situado nas coordenadas 03º 54′ 06″ S 42º 14′ 01″ O, na forma desidratada e acondicionado em embalagens de polietileno a vácuo, sendo mantido ao abrigo da luz até o momento das análises e do processamento. O período escolhido foi o de maior produtividade da unidade produtora.
Caracterização físico-química e química do pólen apícola
Os parâmetros avaliados foram umidade, resíduo fixo mineral (cinzas), proteína total, extrato etéreo (lipídios), carboidratos totais, atividade de água e pH. Para determinação da umidade e cinzas, utilizou-se o método gravimétrico descrito pelo Instituto Adolf Lutz (10). A determinação de elementos minerais foi realizada por laboratório terceirizado, utilizando as metodologias descritas para análise foliar, com abertura nitroperclórica e determinação em ICP. A atividade de água foi determinada com medidor de atividade de água Dew Point (AquaLab), segundo metodologia do IAL (11).
A análise de proteína seguiu a metodologia descrita pela IAL (10), com a utilização da técnica de Micro-Kjeldhal. A fração lipídica foi determinada pelo método Bligh-Dyer, extração a frio que utiliza a mistura de clorofórmio:metanol:água, conforme metodologia descrita por Min e Ellefson (12). Os açúcares totais foram determinados pelo método de Lane e Eynon, de acordo com o descrito por AlmeidaMuradian, Arruda e Barreto (13). O pH foi determinado por leitura direta do sobrenadante em potenciômetro da marca Jenway.
Compostos bioativos do pólen apícola
Preparação dos extratos
Produziu-se extratos aquoso e etanólico (95%) do pólen apícola, segundo metodologia proposta por Sousa, Vieira e Lima (14), conforme se observa na Figura 01.

Quantificação dos compostos fenólicos
O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando ácido gálico como padrão de referência (15, 16). O conteúdo de fenólicos totais obtidos em pólen apícola foram expressos em mg de ácido gálico.g-1 pólen.
Avaliação da atividade antioxidante “in vitro”: método de sequestro do radical DPPH•
Foram preparadas 3 diluições de concentrações diferentes de cada extrato para avaliação da atividade antioxidante pelo método de captura do radical livre DPPH•, descrita por Brand-Wyllians, Cuvelier e Berset (17), adaptada por Vieira et al. (18). As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 517 nm, após 30 minutos do início da reação. Todas as determinações foram realizadas em triplicata e acompanhadas de um controle (álcool etílico + solução etanólica de DPPH•). O decréscimo na absorbância das amostras e dos padrões foi medido e a capacidade de sequestrar radicais livres foi calculada com base na diminuição da absorbância observada.
Método de sequestro do radical livre ABTS•+
O método de captura do radical ABTS•+ utilizado foi o descrito por (19), adaptado por (14). Inicialmente formou-se o radical ABTS•+, a partir da reação de 7 mmol de ABTS com 2,45 mmol de persulfato de potássio, os quais foram incubados à temperatura ambiente, na ausência de luz, por 14 horas. Transcorrido esse tempo, a solução foi diluída em etanol até obter-se uma solução com absorbância de 0,700 ± 0,01 a 734 nm. Foram adicionados 40 μL dos extratos, diluídos em etanol, a 1960 μL do radical, determinando-se a absorbância em espectrofotômetro a 734 nm, após 30 minutos do início da reação. A queda na leitura da densidade ótica das amostras foi correlacionada com o controle (etanol + radical ABTS•+), estabelecendo-se a porcentagem de descoloração do radical ABTS•+.
Avaliação microbiológica das matérias primas
Realizou-se pesquisa de Bacillus cereus, Salmonella sp., coliformes totais e termotolerantes, por serem microrganismos a serem averiguados em barras de cereais e similares, conforme RDC n 12 (1). Além de Staphylococcus aureus e bolores e leveduras, que são microrganismos de relevância para atestar a qualidade da matériaprima. Todas as determinações seguiram metodologia da APHA (20).
Análise estatística
Os resultados obtidos foram analisados por ANOVA e pelo teste de Tukey a um nível de 5% de significância (p<0,05), utilizando-se o programa ASSISTAT versão 7.7 beta. Foram obtidos os valores médios e seus respectivos desvios-padrão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análises Físico-Químicas e Químicas do Pólen Apícola
Os parâmetros físico-químicos do pólen apícola encontram-se na Tabela 01, comparado aos valores-padrão fixados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA):

Pelos resultados obtidos, percebe-se que todos os valores da composição bromatológica encontraram-se dentro do exigido pela legislação, exceto o teor de umidade que atingiu faixa superior ao máximo permitido. Esta remanescência pode, a longo prazo, promover depreciação na qualidade do pólen apícola, afetando sua estabilidade química, sendo meio para as enzimas presentes neste tipo de produto.
Além disso, essa umidade residual poderia ocasionar o crescimento de microrganismos deteriorantes e/ou patogênicos, entretanto esta situação pode ser contornada pela baixa atividade de água, pois a faixa registrada na amostra é bastante restritiva, tendo sido muito menor do que as médias obtidas por (21), (22) e (23), respectivamente 0,26-0,43; 0,21-0,37; e 0,38±0,04. Cabe ressaltar que valores abaixo de 0,60 garantem estabilidade microbiológica aos alimentos, porque mesmo fungos osmofílicos teriam dificuldade de se manterem viáveis (24).
O teor de umidade registrado nesta pesquisa foi inferior ao valor médio encontrado por (25), que estudaram a composição de pólen apícola comercializados na Bahia (9,79% de umidade); próxima aos valores médios apresentados por Nogueira et al. (21), que oscilou de 6,02% a 8,40% e de (26), de 7,4%; e bem abaixo dos que foram obtidos por (27), que verificaram valor médio de 24,1% de umidade. Contudo, divergiu significativamente dos de (28), (29) e (30), que foram, respectivamente, 3,37%, 3,47% e 1%.
Essa variação pode ser explicada por alguns fatores que estão interconectados, (30) afirmam que como o pólen apícola é altamente hidrofílico é muito importante a medição da umidade relativa do ar em períodos de amostragem. Outra razão seria a execução da amostragem, ou seja, casos em que a coleta é feita diretamente no apiário ou obtido em comércio, pois a embalagem do produto pode permitir uma maior troca de vapor de água com o ambiente externo e a técnica de secagem empregada e as condições de armazenamento do produto desidratado. Além disso, o método de determinação de umidade pode interferir nesta variação, pois alguns são mais sensíveis e precisos que outros.
O conteúdo de cinzas pode sugerir a ocorrência de contaminação por sujidades ambientais, como sedimentos arenosos, por isso é importante o atendimento deste quesito. A média encontrada para esta análise foi superior às verificadas por (29), (31), (22) e (23), contudo está enquadrado na legislação, divergências de espécies botânicas e de composição do solo podem ser razões que justifiquem a diferença, porque algumas espécies absorvem mais minerais do que outras, transferindo-os para suas células.
Para o teor proteico, Marchini et al. (32) em Piracicaba (SP) e Carpes et al. (33) no Sul do Brasil encontraram os valores de 20,33% e 20,47%, respectivamente; enquanto Alves et al (34) avaliou pólen apícola da região do Cariri cearense e encontrou valor médio de 26,43%. González-Martin et al. (35) investigaram as propriedades do pólen na Espanha e encontraram valores de proteínas entre 14 e 24%. Souza et al. (36), em estudo com abelhas sem ferrão da região amazônica encontrou valores entre 15,7 e 23,8%. Já Yang et al. (37) avaliando pólen apícola na China obteve escores de 14,26- 28,95%, dados que corroboram a média encontrada neste trabalho. Entretanto, é possível detecção de valores inferiores, como foi o caso de Almeida et al. (25), cujo percentual foi de 6,44 a 14,44%. Estima-se que uma suplementação alimentar de 15 g/dia de pólen apícola seja suficiente para nutrir uma pessoa com a quantidade mínima de aminoácidos essenciais (38).
Os lipídeos representam uma fonte energética de reserva e são solventes de substâncias importantes como vitaminas A e E, mas também podem causar alterações nos alimentos quando estes são expostos a condições extremas, como incidência de luz, calor, oxigênio e umidade, gerando radicais livres. O pólen apícola, em geral, apresenta baixo teor lipídico. Arruda et al. (2013) estudando o pólen de Pariquera-Açu (São Paulo) e Modro et al. (29) de Minas gerais, registraram valores médios de 5,39% e 2,83- 3,02%; Saavedra, Rojas e Delgado (39), com pólen do Peru, e Yang et al. (37), da China, verificaram, respectivamente, médias de 0,16% e 0,66-10,49%. Sattler (28), em regiões georreferenciadas do sul do Brasil, detectou faixas de 0,37% a 6,20%.
Pinto et al. (30), fazendo acompanhamento temporal das características físicoquímicas do pólen, anotou valores de lipídeos variando de 2,6 a 6,4%. Como justificativa para essa variação ele conseguiu comprovar o efeito do período de coleta sobre a composição química do pólen, inclusive de lipídeos. Desta forma, esse pode ser apontado como um dos motivos pela divergência de valores, tendo em vista que todos os estudos utilizados para esta comparação trabalharam com abelhas da espécie Apis mellifera e com amostras desidratadas.
O alto teor de açúcares redutores, em geral, pode ser justificado pela presença de mel e néctar no fluido que cimenta os grãos de pólen (23). Yang et al. (37) realizaram trabalho de definição do perfil físico-químico do pólen da China coletado na primavera de 2010, e a faixa para carboidratos foi de 59,43-75,65%; Pinto et al. (30) detectaram 28,2% de açúcares totais. Valores estes que foram superiores ao desta pesquisa, contudo há de se considerar que algumas espécies florais têm como recurso de atração de abelhas apenas o pólen, consequentemente as abelhas não entram em contato com o néctar e o teor de açúcares não é tão pronunciado.
Um fator que pode ter contribuído para essas variações consiste na composição botânica, pois ela tem influência direta sobre a composição química do produto final, logo a cada período de coleta pode haver diferenciações nos valores aferidos.
O valor de pH encontrado nesta pesquisa de 4,91 está dentro do estabelecido pela população, é bem próximo do declarado por (30): pH 5, e do valor médio apresentado por (22), 4,8; entretanto, distingue-se de alguns dos valores encontrados por (21) e (25), respectivamente, 4,23-5,17 e 4,55. O pólen sofre alterações químicas desde sua retirada até a maturação do produto dentro da colmeia promovendo decaimento do pH de aproximadamente 7,2 para 3,5-4,2 dentro da colmeia (40).
Portanto, o pH do pólen apícola sofre alterações frente a fatores bióticos e abióticos e alterações podem ocorrer também após a retirada do produto e desidratação (41). Essa medida é importante para a garantia da conservação do alimento, pois é um fator de alto impacto na restrição do crescimento de microrganismos, mas também apresenta efeito sobre as enzimas.
Dentre as bases de padronização que (3) montaram para pólen apícola, tem-se a de minerais. De acordo com eles, há considerável variação nesta composição dependendo do tipo de pólen. Percebe-se que dos elementos cujo padrão ele estabeleceu, apenas o fósforo ultrapassou consideravelmente o limite, mais que o dobro, condição esta que pode estar relacionada com a composição botânica ou com o solo da região.
Comparando os valores de minerais com os obtidos por Morgano et al. (42), que verificou o conteúdo de minerais de amostras de pólen desidratado de onze estados (incluindo o Piauí), nota-se uma certa semelhança entre alguns elementos, o cálcio foi ligeiramente superior a todos os que haviam sido detectados, sendo que o do estado de Sergipe foi o que mais se aproximou. O fósforo, que nesta pesquisa contribui com 12400mg/Kg de pólen, foi superior a todos os valores médios quantificados pelos autores supracitados.
Os valores para potássio foram alcançados apenas pelos estados de Sergipe e Distrito Federal. Contrariamente aos demais minerais, o magnésio se apresentou em menor proporção que a dos demais estados. Entre os microelementos, zinco e ferro foram destaques, pois superaram todas as médias obtidas nos estados em estudo; sódio apresentou um meio termo, ou seja, foi inferior a algumas e superior a outras amostras, enquanto o selênio se mostrou relativamente em maior proporção que os valores registrados em outros estados.
Os resultados obtidos nesta pesquisa, embora divergentes dos verificados por outros autores em alguns elementos, encontraram-se dentro da faixa estabelecida pelo MAPA, exceto a umidade, mas o próprio método de desidratação até peso constante pode ter influenciado negativamente ocasionando degradação de outros componentes que fossem mais voláteis que a água.
Note-se que o conteúdo proteico destas amostras é elevado considerando o limite mínimo exigido pelo MAPA, logo é um produto com grande potencial para elaboração de produtos com alto teor de proteínas. Percebe-se que o valor de lipídeos também não é excessivo, desta forma o consumo do pólen não promoveria um aumento considerável da cota energética diária do consumidor e o risco de sofrer algum tipo de oxidação é minimizado.
Perfil Antioxidante
O resultado exposto na Figura 02 denota que houve diferença de extração em relação ao solvente, o etanol conseguiu capturar mais substâncias que a água, contudo a utilização do sistema de ultrassom não agregou efeito positivo, o que induz a afirmar que a agitação mais vigorosa do agitador magnético é mais eficaz para amostras de pólen apícola.

É possível verificar significante diferença entre os resultados dentro de cada método de extração, bem como entre os solventes empregados. O teste que demonstrou maior variação entre as leituras foi o de extração direta em meio aquoso. Esta oscilação pode ser associada à afinidade das substâncias com o solvente, e o método de extração interfere na liberação destas nesses solventes.
Quando comparados com outros estudos, estes resultados aparecem bem mais sobressalentes, pois, em geral, a quantificação não foi tão significativa quanto nesta pesquisa. Neves, Alencar e Carpes (43) avaliaram amostras oriundas de Alagoas, Bahia, Sergipe e Minas Gerais e encontrou os valores de 13,78, 8,33, 7,01 e 6,9. Já (33) em amostras da região Sul do Brasil obteve valores que variaram de 19,28 a 48,90 mg/g. Menezes (16) encontrou valores expressivos cuja faixa variou de 14,31 a 132,39 mg/g, neste caso um os tipos polínicos dominantes eram de Mimosa pudica e Eucalyptus, sendo que as maiores concentrações de fenólicos foi detectada nesta última.
A variedade de compostos fenólicos está diretamente associada com a identidade botânica, isto é, conforme os tipos polínicos predominantes pode-se haver modificação neste perfil. É possível, inclusive, em uma mesma região de estudo ocorrer diferenças nesses valores, em virtude da modificação da flora e das fontes polínicas dessas abelhas. Desta forma, regiões geográficas distintas, biomas diferentes e períodos de coleta diversos tendem para valores oscilantes, porém isso não deve ser generalizado, ou seja, a dependência está nas substâncias presentes nas plantas visitadas.
Embora a quantificação de compostos fenólicos seja um bom instrumento para se afirmar o potencial antioxidante do pólen apícola, a análise não deve se restringir apenas a essa parte, pois o fato de haver elevada quantidade de compostos fenólicos não significa necessariamente que essas substâncias apresentam efetiva ação protetora no organismo, por isso deve-se realizar testes in vitro da atividade de proteção que esses extratos podem promover.
As propriedades biológicas dos compostos fenólicos estão relacionadas com a atividade antioxidante que cada fenol exerce sobre determinado meio. A atividade dos antioxidantes, por sua vez, depende de sua estrutura química, podendo ser determinada pela ação da molécula como agente redutor (velocidade de inativação do radical livre, reatividade com outros antioxidantes e potencial de quelação de metais) (43). Por isso, o fato de uma amostra apresentar alto teor de compostos fenólicos não significa, necessariamente, que ela terá alta atividade de proteção.
Baseados nisto, os resultados expressos na tabela 02, expressam a eficácia de ação antioxidante deste produto. Foram utilizadas duas metodologias de determinação de ação protetora, pois cada método tem uma sensibilidade diferente, assim foi possível verificar qual é mais efetivo na determinação de atividade antioxidante desempenhada pelos extratos. Ao acompanhar as médias nota-se que o método de DPPH apresenta melhor desempenho e em concordância com os dados dos fenólicos totais, os extratos etanólicos foram os que demonstraram maior atividade.

Carpes (23) esclarece que a atividade antioxidante do radical livre estável DPPH• se baseia na transferência de elétrons de um composto antioxidante para essa espécie radicalar. Carpes et al. (33) encontraram atividade antioxidante nos extratos de pólen mensurada pelo método do DPPH que variou de 30,54 a 94,73%, com uma média de 73,44±21,10%. As variações observadas tiveram como justificativa as diferentes composições das plantas de origem do pólen coletado e a sensibilidade do método.
Menezes (16) encontrou o mínimo de 37,94% de neutralização do radical DPPH na amostra que apresentou 82,8% de frequência do tipo polínico Mimosa pudica e um máximo de neutralização 93,21% na amostra que apresentou 99,2% de frequência do tipo polínico Eucalyptus, com uma média de 85,14% ± 1,17 de neutralização do radical DPPH.
LeBlanc et al. (9) trabalhando com pólen do Deserto de Sonora (Deserto Gila – EUA/Mex.), verificou que o gênero Mimosa foi o que apresentou maior atividade antioxidante, pelo método de DPPH e FRAP. Foram testados vários solventes dentre os quais o que obteve melhor resposta para DPPH foi o metanol, registrando atividade de 90,45%±0,69, no aquoso ele detectou atividade de 52,10%±3,03 e no etanólico, 75,90%±1,19, em método de extração direta.
Percebe-se a partir da atividade antioxidante, que o método mais sensível foi o de DPPH e o etanol o melhor solvente, evidenciando correlação positiva com o conteúdo de fenólicos totais. Viu-se também que os dados obtidos nesta pesquisa foram mais significativos que os registrados por outros pesquisadores denotando maior riqueza em bioativos nessa amostragem.
Análise Microbiológica do pólen apícola
A qualidade microbiana é uma dentre as várias exigências relacionadas com os critérios de segurança a serem considerados nos alimentos. Os microrganismos podem alterar as propriedades do produto e representar risco para a saúde do consumidor, principalmente em se tratando de microrganismos patogênicos (44).
A partir das análises realizadas, chegou-se aos resultados expostos na Tabela 03, como dito anteriormente, não há padrão microbiológico para o pólen apícola, logo se utilizou tanto o padrão para barras de cereal (grupo 10 m) quanto o padrão estipulado por (4) (grupo 10d), tomando esses padrões por referência somente para balizar a coerência dos dados obtidos nesta pesquisa.

Os resultados obtidos encontram-se dentro da faixa aceita para ambos os grupos escolhidos da legislação, apontando para um controle adequado das condições de processamento deste produto. Cabe ressaltar que para a obtenção do pólen apícola desidratado não é permitido o uso de temperaturas excessivas, embora o tempo de exposição seja longo a temperatura não pode ultrapassar os 42ºC para não prejudicar a qualidade nutricional e funcional dos nutrientes presentes neste tipo de produto.
Os coliformes servem como indicadores de qualidade sanitária, logo quanto menor o valor quantificado significa que melhores são as condições de higiene e manipulação. Baseado no padrão que foi adotado, nota-se um distanciamento considerável. Santos (45) e Ferreira (46) também encontraram valores satisfatórios, enquanto (4) teve amostras que atingiram a faixa de 1,1×10³, contrariando o padrão adotado.
Rocha (8) expondo trabalhos realizados por Gilliam mostra que algumas espécies do gênero Bacillus foram as principais bactérias encontradas em pólen embalado do Panamá, sendo as abelhas a principal fonte de contaminação, ressaltando que sua importância é devida à sua atividade metabólica, especialmente, no que diz respeito à produção de enzimas proteolíticas, lipolíticas e glicosidases.
O consumo de alimentos que contenham uma concentração superior a 106 B. cereus/g pode resultar em intoxicação alimentar, logo os valores obtidos nessa pesquisa encontram-se bem abaixo desse limite indicando baixo risco de desenvolvimento de intoxicação com o consumo deste produto.
A Salmonella sp é uma bactéria entérica de ampla distribuição ambiental, especialmente em condições sanitárias precárias, e sua presença em alimentos pode resultar em infecções alimentares; já os Staphylococcus aureus são microrganismos presentes naturalmente nas mucosas humanas, contudo apenas as cepas coagulase positivas são capazes de causar intoxicações alimentares.
Hervatin (4) avaliou a presença de Staphylococcus aureus coagulase positivo e Salmonella sp, não observando crescimento de nenhum dos referidos microrganismos. A ausência de salmonela e o reduzido crescimento de estafilococos nesta pesquisa representa segurança de consumo deste produto, pois mesmo sendo o pólen obtido pelas abelhas em ambiente externo e sendo manipulado diretamente não ocorreu contaminação significativa.
Cabrera e Montenegro (47) avaliaram a capacidade bactericida de extrato aquoso de pólen apícola para alguns microrganismos, dentre eles o S. aureus, constatando que este microrganismo teve crescimento inibido em altas concentrações de pólen no extrato (>50%), contudo ainda menores do que as exigidas para inibição de Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa e ressaltaram que a atividade antimicrobiana deve-se principalmente em função dos compostos fenólicos presentes no pólen apícola, vinculando diretamente com a origem botânica. Isto implicaria afirmar que para este microrganismo o pólen apícola apresentou larga capacidade de controle, especialmente porque é um produto com elevado conteúdo de compostos fenólicos.
Embora bolores e leveduras não tenham um padrão de comparação, é importante avaliar suas concentrações em função da possibilidade de produção de micotoxinas. Almeida et al. (25) encontraram valores de bolores e leveduras entre 1,5×10² e 1,48×104 UFC.g-¹ enquanto Santos et al. (48) encontraram valores de 1,0 x 10² a 9,7×10³ UFC/g, já Hervatin (4) fez análise em dois períodos do ano, de março/abril de 2007, onde suas faixas compreenderam crescimento de 1,5×104 a 7,8×104 UFC/g e o período de out/nov. cujos valores foram em torno de 9×104 a 1,2×106 UFC/g.
Rodrigues et al. (49) em amostras de pólen do Brasil detectaram a presença de Penicillium sp., Aspergillus niger e Cladosporium cladosprioides em 100% e 67% das amostras, respectivamente. De fato, as condições de conservação deste produto devem ser adequadas, pois se a aw e a temperatura não forem as mais corretas os fungos multiplicam-se podendo, algumas espécies produzir toxinas. Comparando os dados, pode-se notar que os resultados desta pesquisa nos levam a inferir que a probabilidade de haver contaminação com micotoxinas neste produto é muito pequena, aproximandose mais dos resultados conseguidos por (46).
González et al., (50) afirmam que as fases críticas para a contaminação do pólen por fungos, são a permanência por longos períodos nos caça-pólens, o tempo e condições de secagem. Na primeira fase a umidade relativa do pólen pode aumentar, na segunda fase, deve evitar-se a secagem ao ar livre, porque a temperatura é baixa. Estes fatores favorecem tanto o crescimento dos fungos quanto a produção de micotoxinas.
Portanto, pode-se considerar que os resultados foram satisfatórios, pois todos os valores mantiveram-se abaixo do padrão de referência utilizado, desta forma pode-se afirmar que o produto beneficiado pelo Assentamento se encontra apto para o consumo humano não oferecendo riscos de causar toxinfecções alimentares.
CONCLUSÕES
O Assentamento Vassouras, localizado na zona rural de Esperantina, porção norte do estado do Piauí, é um dos poucos produtores de pólen apícola no estado. É uma unidade que contou com auxílio da CODEVASF, na parte de infraestrutura e com alguns cursos avulsos sobre o aproveitamento deste rico produto, além do mel. Contudo, não tinham resultados laboratoriais que atestassem a qualidade do seu produto.
Após investigação dos parâmetros físico-químicos, verificou-se que os valores estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira, exceto a umidade, que se apresentou moderadamente superior ao limite estabelecido, possivelmente influenciado pelo método de secagem empregado pelo apiário e/ou pelo próprio método analítico, contudo a atividade de água verificada pode garantir a estabilidade física e microbiológica do produto.
Os valores de compostos fenólicos, aspecto que mais sofre influência da flora visitada pelas abelhas, foram quantitativamente satisfatórios, especialmente no quesito atividade de proteção quando utilizado método de DPPH• cuja sensibilidade demonstrou maior potencial antioxidante. A análise microbiológica não revelou presença significativa de microrganismos patogênicos, garantindo a segurança de uso dos produtos para a alimentação humana.
A partir destes resultados, percebe-se que os processos executados pelo Assentamento estão sendo satisfatórios para a garantia de uma produção segura e eficiente de pólen apícola, o que implica em um produto com maior vida de prateleira e com baixo risco microbiológico.
REFERÊNCIAS
1. BRASIL. Ministério da Saúde. (2001) Secretaria de Vigilância Sanitária. ResoluçãoRDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre os padrõesmicrobiológicos para alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,Brasília, n. 7-E, 10 jan. 2001. p. 45–53.
2. VINCENZI, V. M. O pólen apícola como elemento potencializador dos efeitosadvindos da atividade física orientada em idosas. [Dissertação]. Universidade Federalde Santa Catarina. Florianópolis, SC, 2004.
3. CAMPOS, M. G. R.; BOGDANOV, S.; ALMEIDA-MURADIAN, L. B.;SZCZESNA, T.; MANCEBO, Y.; FRIGERIO, C.; FERREIRA, F. Pollen compositionand standardisation of analytical methods. Journal of Apicultural Research and BeeWorld. 2008; 47(2): 156–163.
4. HERVATIN, H. L. Avaliação microbiológica e físico-química do pólen apícola innatura e desidratado sob diferentes temperaturas. [Dissertação]. UNICAMP: Faculdadede Engenharia de Alimentos. Campinas, SP, 2009.
5. BOGDANOV, S. Pollen: collection, harvest, composition, quality. In: THE BEEpollen book. Mühlethurnen: Bee-Hexagon, 2016. ch. 1, PDF (13 p.). Disponível em:https://www.researchgate.net/profile/StefanBogdanov/publication/304011810_Pollen_CCollectio_Harvest_Compostion_61Quality/links/5762c0c808aee61395bef502/PollenCollection-Harvest-Compostion-Quality.pdf. Acesso em: 7 jun. 2024.
6. NEGRÃO, A. F.; ORSI, R. O. Harvesting season and botanical origin interferes inproduction and nutritional composition of bee pollen. Anais da Academia Brasileira deCiências. 2018; 90 (1): 325-332.
7. LOPES, M. T. R.; BARRETO, A. L. H.; PEREIRA, F. M.; SOUZA, B. A.;FRANCO, L. J. D.; SILVA, S. S. L. Pólen apícola: características da produção e da qualidade. Embrapa Meio-Norte, 2022. (Documentos / Embrapa Meio-Norte, ISSN 0104-866X ; 283).
8. ROCHA, J. F. M. Avaliação do efeito de armazenamento na qualidade do pólenapícola. [Dissertação]. Instituto Politécnico Escola Superior Agrária de Brangança,Portugal, 2013.
9. LEBLANC, B.W., DAVIS, O.K., BOUE, S., DELUCCA, A., DEEBY. T.Antioxidant activity of Sonoran Desert bee pollen. Food Chemistry. 2009; 115: 1299-1305.
10. INSTITUTO ADOLF LUTZ (IAL). Normas analíticas do Instituto Adolf Lutz. SãoPaulo, 1985. 513 p.
11. INSTITUTO ADOLF LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: Métodosquímicos e físicos para análise de Alimentos. 4ª ed. São Paulo, Instituto Adolfo Lutz,2004.
12. NIELSEN, S. S. (edit.) Food analysis. 4 ed. USA: Springer, 2010.
13. ALMEIDA-MURADIAN, L. B.; ARRUDA, V. A. S.; BARRETO, L. M. R. Manualde controle de qualidade do pólen apícola. São Paulo: APACAME, 2012.
14. SOUSA, M. S. B.; VIEIRA, L. M.; LIMA, A. Fenólicos totais e capacidadeantioxidante in vitro de resíduos de polpas de frutas tropicais. Brazilian Journal of FoodTechnology. 2011; 14 (3): 1-9.
15. Singleton, V. L.; Orthofer, R.; Lamuela-Raventos, R.M. Analysis of Total Phenolsand Other Oxidation Substrates and Antioxidants by Means of Folin-Ciocalteu Reagent.Methods in Enzymology. 1999; 299: 152-178.
16. MENEZES, J. D. S. Compostos bioativos do Pólen apícola. [Dissertação].Universidade Federal da Bahia: Faculdade de Farmácia. Salvador, 2009.
17. BRAND-WILLIANS, W.; CUVELIER, M. E.; BERSET, C. Use of a free radicalmethod to evaluate antioxidant activity. Lebensmittel-Wissenschatt und-technologie.1995; 28(1): 25-30.
18. VIEIRA, L. M.; SOUSA, M. S. B.; MANCINI-FILHO, J.; LIMA, A. Fenólicostotais e capacidade antioxidante in vitro de polpas de frutos tropicais. Revista Brasileirade Fruticultura. 2011; 33(3).
19. RE, R.; PELLEGRINI, N.; PROTEGGENTE, A.; PANNALA, A.; YANG, M.;RICEEVANS, C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cationdescolorization assay. Free Radical Biology and Medicine. 1999; 26: 1231-1237.
20. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION – APHA.Standard methods forthe examination of water andwastwater. 18 th edition. Washington DC, 1992.
21. NOGUEIRA, C.; IGLESIAS, A.; FÉAS, X.; ESTEVINHO, L. M. Commercial BeePollen with Different Geographical Origins:A Comprehensive Approach. InternationalJournal of Molecular Sciences. 2012; 13: 11173-11187.
22. FEAS, X.; VAZQUÉZ-TATO, M. P.; ESTEVINHO, L. SEIJAS, J. A.; IGLESIAS,A. Organic Bee Pollen: Botanical Origin, Nutritional Value, Bioactive Compounds,Antioxidant Activity and Microbiological Quality. Molecules. 2015; 17: 8359-8377.
23. CARPES, S. T. Estudo das características físico-químicas e biológicas do pólenapícola de Apis mellifera L. da região Sul do Brasil. [Tese]. Universidade Federal doParaná. Curitiba, 2008.
24. JAY, J. M. Modern food microbiology. 6th ed. EUA: Aspen food science text series,2000.
25. ALMEIDA, A. M. M.; SOUZA, L. S.; VALETIM, I. B.; COSTA, J. G.;GOULART, M. O. F. Características físico-químicas e microbiológicas do pólen da microrregião de Ribeira do Pombal, Bahia, Brasil. Anais do Simpósio Internacional de Plantas Medicinais e Nutracêuticos. SBCTA, Aracaju, 2012.
26. ALMEIDA-MURADIAN, L. B.; PAMPLONA, L. C.; COIMBRA, S.; MONIKABARTH, O. Chemical composition and botanical evaluation of dried bee pollen pellets.Journal of Food Composition and Analysis. 2005; 18(1): 105–111.
27. FUNARI, S.R.C.; ROCHA, H. C.; SFORCIN, J. M.; FILHO, H. G.; CURI, P. R.;GOMES DIERCKX, S. M. A.; FUNARI, A. R. M.; OLIVEIRA ORSI, R. Composiçõesbromatológica e mineral do pólen coletado por abelhas africanizadas (Apismellifera L.)em Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil. Arquivos Latinoamericanos de ProducciónAnimal. 2003; 11(2): 88- 93.
28. SATTLER, J. A. G. Quantificação das vitaminas antioxidantes E (α-, β-, γ-, σ-tocoferol), C (ácido ascórbico), pró-vitamina A (α-, β-caroteno) e composição químicado pólen apícola desidratado produzido em apiários georreferenciados da região Sul doBrasil. [Dissertação]. Universidade de São Paulo. Departamento de Alimentos. SãoPaulo, 2013.
29. ARRUDA, V. A. S.; PEREIRA, A. A. S.; FREITAS, A. S.; BARTH, O. M.;ALMEIDA-MURADIAN, L. B. Dried bee pollen: B complex vitamins,physicochemical and botanical composition. Journal of Food Composition andAnalysis. 2013; 29: 100-105.
30. PINTOS, F. A.; CAMPOS, C. N.; BARRETO, L. M. R. C. Perfil físico-químico dopólen apícola produzido em Taubaté, Vale do Paraíba, sudeste do Brasil. ArchivosLatinoamericanos de Producción Animal. 2012; 20(1):1-6.
31. PINHEIRO, F. M.; COSTA, C. V. P. N.; BAPTISTA, R. C.; VENTURIERI, G. C.;PONTES, M. A. N. Pólen de abelhas indígenas sem ferrão Melipona fasciculata eMelipona flavolineata: caracterização físico-química, microbiológica e sensorial.Embrapa. Belém (PA), 2012. Disponível em:<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60389/1/polen-de-abelhasindigenas-sem-ferrao-melipona.pdf >. Acesso em: 20/11/2014.
32. MARCHINI, L. C.; REIS, V. D. A.; MORETI, A. C. C. C. Composição físicoquímica de amostras de pólen coletado por abelhas africanizadas Apis mellifera(Hymenoptera: Apidae) em Piracicaba, Estado de São Paulo. Ciênc. Rural. 2006; 36:949–953.
33. CARPES, S. T.; PRADO, A.; MORENO, I. A. M.; MOURAO, G. B.; ALENCAR,S. M.; MASSON, M. L. Avaliação do potencial antioxidante do pólen apícolaproduzido na região sul do Brasil. Quim. Nova. 2008; 31(7): 1660-1664.
34. ALVES, R. F. Análise palinológica do pólen apícola produzido no estado deSergipe, Brasil. [Dissertação]. Universidade Estadual de Feira de Santana.Departamento de Ciências Biológicas, Feira de Santana (BA), 2013.
35. GONZÁLEZ-MARTIN, I.; HERNÀNDEZ-HIERRO, J. M.; BARROS-FERREIRO,N.; CÓRDON-MARCOS, C.; GARCÌA-VILLANOVA, R. J. Use of NIRS technologywith a remote reflectance fibre-optic probe for predicting major components in beepollen. Talanta. 2007; 72: 998–1003.
36. SOUZA, R. C. S.; YUYAMA, L. K. O.; AGUIAR, J. P. L.; OLIVEIRA, F. P. M.Valor nutricional do mel e pólen de abelhas sem ferrão da região amazónica.Acta Amazonica. 2004; 34: 333-336.
37. YANG, K.; WU, D.; YE, X.; LIU, D.; CHEN, J.; SUN, P. Characterization ofChemical Composition of Bee Pollen in China. J. Agric. Food Chem. 2013;61:708-718.
38. SANTOS, F. A. R. Identificação botânica do pólen apícola. Magistra. 2011;23(número especial), outubro, Cruz das Almas-BA.
39. Saavedra, K. I., Rojas, C., & Delgado, G. E. Características polínicas y composiciónquímicadelpolenapícolacolectado en Cayaltí (Lambayeque – Perú). Revista Chilena deNutricion. 2013;
40: 71–78.40. ISIDOROV, V. A.; ISIDOROVA, A. G.; SCZCZEPANIAK, L.; CZYZEWSKA, U.Gas chromatographic–mass spectrometric investigation of the chemical composition ofbeebread. Food Chem. 2009; 115:1056–1063.
41. PERNAL, S. F.; CURRIE R. W. Pollen quality in fresh and 1-year-old single pollendiets for worker honey bees (Apis mellifera L.). Apidologie. 2000; 31: 387–409.
42. MORGANO, M. A.; MARTINS, M. C. T.; RABONATO, L. C.; MILANI, R. F.;YOTSUYANAGI, K.; RODRIGUEZ-AMAYALA, D. B. Inorganic Contaminants inBee Pollen from Southeastern Brazil. Journal of Agricultural and Food Chemistry.2010; 58; 6876–6883.
43. NEVES, L. C.; ALENCAR, S. M.; CARPES, S. T. Determinação da atividadeantioxidante e do teor de compostos fenólicos e flavonoides totais em amostras de pólenapícola de Apis mellifera. Brazilian Journal of Food Technology, VII BMCFB, junho2009.
44. RODRIGUES, M. A. A.; KELLER, K. M.; KELLER, L. A. M.; OLIVEIRA, A. A.;ALMEIDA, T. X.; MARASSI, A. C.; KRÜGER, C. D.; BARBOSA, T. S.;LORENZON, M. C. A.; ROSA, C. A. R. Avaliação micológica e micotoxicológica dopólen da abelha jataí (Tetragonisca angustula) proveniente de ilha Grande. RevistaBrasileira de Medicina Veterinária. 2008; 30: 249-253.
45. SANTOS, J. F. Avaliação das propriedades nutricionais de barras de cereaiselaboradas com farinha de banana verde. [Dissertação]. Faculdade de CiênciasFarmacêuticas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.
46. FERREIRA, R. C. Avaliação das características físico-químicas e microbiológicasdo pólen da Melipona scutellaris L. submetido a diferentes processos de desidratação.[Dissertação] Univerisade Federal da Bahia. Salvador, 2012.
47. CABRERA, C.; MONTENEGRO, G. Pathogen control using a natural Chilean beepollen extract of known botanical origin. Ciencia e Investigación Agraria. 2013; 40(1):223-230.
48. SANTOS, F. A. R. Identificação botânica do pólen apícola. Seminário Brasileiro dePrópolis e Pólen. Ilhéus (BA), 2011.
49. RODRIGUES, M. A. A.; KELLER, K. M.; KELLER, L. A. M.; OLIVEIRA, A. A.;ALMEIDA, T. X.; MARASSI, A. C.; KRÜGER, C. D.; BARBOSA, T. S.;LORENZON, M. C. A.; ROSA, C. A. R. Avaliação micológica e micotoxicológica dopólen da abelha jataí (Tetragonisca angustula) proveniente de ilha Grande. RevistaBrasileira de Medicina Veterinária. 2008; 30: 249-253.
50. GONZÁLEZ, G., HINOJO, M.J., MATEO, R., MEDINA, A. JIMÉNEZ, M.Occurrence of mycotoxin producing fungi in bee pollen. International Journal of FoodMicrobiology. 2005; 105: 1-9.